A Revolução Americana é um dos temas mais estudados da historiografia estadunidense. Para além da importância do evento que marca a independência dos Estados Unidos, na famosa data de 4 de julho de 1776, o grande interesse pelo tema tem a ver com o espaço que ele ocupa no imaginário de boa parte dos americanos. Como observa o historiador Gordon Wood, “nenhuma outra nação importante honra seus personagens históricos do passado, especialmente personagens que existiram há dois séculos, da maneira como nós americanos fazemos. Queremos saber o que Thomas Jefferson pensaria sobre ações afirmativas, ou George Washington sobre a invasão do Iraque. […] Nós americanos parecemos ter uma necessidade especial por essas figuras históricas autênticas no aqui e agora. Por que isso deveria ser assim?”
A resposta para essa questão é diversa. Wood sugere que ela está atrelada à ideia de que os EUA, diferente de outros países, não pode recorrer a etnias, línguas ou religiões comuns como elementos geradores de unidade nacional. Foi preciso recorrer a um conjunto de crenças para estabelecer um senso de identidade à nação, sendo a Revolução Americana o momento do nascimento dessas crenças. O impacto disso para a produção historiográfica é imenso: a cada grande transformação ocorrida na sociedade americana, os historiadores voltam ao “mito criador” para atualizar ou revisar a validade dessas crenças.
A literatura Patriota
As primeiras grandes obras dedicadas ao estudo da Revolução Americana surgiram ainda no momento imediato à sua ocorrência e traziam consigo o entusiasmo gerado pelo evento. The History of the American Revolution (1789) de David Ramsay, um médico da Carolina do Sul, foi publicado no mesmo ano em que a Constituição entrou em vigor. Alguns anos depois, surgiria History of the Rise, Progress, and Termination of the American Revolution (1805), escrito por uma mulher, Mercy Otis Warren, e organizado em três volumes. Warren era uma poetisa e dramaturga, esposa de James Warren e irmã de James Otis, dois nomes profundamente envolvidos com o processo revolucionário.

Assim como Ramsay, o trabalho de Mercy Warren ressalta os bravos pais de família, comerciantes e pescadores que, atendendo a um chamado promovido por um “boom de liberdade”, levantaram-se contra os vícios e corrupção dos britânicos. Nas duas obras existe uma perspectiva moral sobre o evento, alertando aos leitores da necessidade de se cultivar as virtudes que diferenciam os americanos dos vícios dos antigos colonizadores. Ainda que sejam importantes, tais obras cumpriam uma função propagandista que celebrava os ideais do grupo responsável por conduzir aquele processo.
A leitura Whig
O primeiro trabalho “historiográfico” de relevância sobre o período da Independência remete ao ano de 1889 e foi publicado por George Bancroft sob o título de History of the United States, from the Discovery of the Continent. Bancroft era um homem de posses que, em seu tempo ocioso, dedicava-se a cultivar a sua erudição. Seu livro veio em um momento conhecido como a Era Dourada, marcada pela consolidação da expansão territorial e das ferrovias, a vitória do modelo industrial e o surgimento de grandes metrópoles. Para muitos, o “destino manifesto” havia se cumprido.
Trata-se de um período em que o patriotismo havia se convertido em política pública, personificada na adoção do juramento à bandeira pelas escolas, proferido pela primeira vez em 1892, em “homenagem” aos quatrocentos anos da “chegada” de Colombo ao continente. Esse mesmo sentimento é verificável na obra de Bancroft. Apesar de ser um livro voltado para a história americana mais ampla, suas apreciações sobre a independência do país marcariam uma geração. Conhecida como a interpretação Whig, para ele, a revolução representou um momento de ruptura total com a história da Grã-Bretanha, abraçando a liberdade que se converteria na maior herança dos EUA e exemplo para os demais países do mundo.
A Historiografia Progressista
A Era Dourada, porém, mostraria suas limitações na própria década de 1890, após a Grande Depressão de 1893. De certa maneira, ela foi responsável por expor as contradições do período: a exploração da mão de obra, o lucro desmedido dos patrões em relação aos baixos salários dos empregados e a corrupção do Partido Republicano. Tem-se início, então, a Era Progressista, marcada pelo fortalecimento dos movimentos sindicais e grandes greves, a organização de novos partidos de cunho popular (como os Partidos Populista e Socialista) e o predomínio de políticos mais dedicados a controlar as dinâmicas do mercado.
Não demoraria para que a questão da luta de classes chegasse às universidades. Trata-se do surgimento de uma historiografia profissional no país, responsável pela organização do campo historiográfico nas universidades. Não por menos, a interpretação da Revolução surgida neste momento se converteu em hegemonia entre os historiadores acadêmicos, constituindo-se como uma escola historiográfica: a historiografia progressista.
São vários os nomes que se dedicaram a esse estudo, mas daremos destaque a Carl Becker e seu livro The History of Political Parties in the Province of New York, 1760-1776 (1909). A grande inovação de seu trabalho foi a de entender a independência dos EUA como uma dupla revolução. A primeira dedicada ao estabelecimento do autogoverno, representada pela ruptura com a monarquia; e a segunda responsável por definir quem governaria o novo país.

Esta interpretação ganhou novos argumentos em livros posteriores, como o clássico de Charles Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States (1913), em que o autor defende que a Constituição foi feita por ricos, para ricos. Trata-se do livro mais influente sobre a Constituição em sua época. Segundo tais interpretações, a Revolução Americana foi composta por uma revolução política e uma revolução social, de maneira que a primeira foi capaz de conter a segunda, o que ficou evidente com o estabelecimento da Constituição de 1788, garantindo a proteção dos interesses burgueses.
A Historiografia Neo-Whig
O fim da Segunda Guerra Mundial, a defesa da Democracia como modelo político e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 trouxeram novos ares para essa discussão. Assim, a importância dada a crença nas ideias e nos valores como geradores de pactos e compromissos voltaria a ganhar espaço na interpretação da Revolução Americana. No lugar de aspectos materiais da independência, as ideias voltariam a ganhar um peso para a sua compreensão. Surgiria então a chamada historiografia de Neo-Whig, cuja obra mais importante foi The Ideological Origins of the American Revolution, de 1967, escrita pelo historiador Bernard Bailyn.
O argumento central do autor é a de que as ideias circulantes na época da Revolução, chamadas por ele de “tradições”, tiveram como elemento aglutinador a apropriação por parte dos artífices da independência de autores republicanos ingleses (radical whig) da época da Revolução Inglesa (1640-1688). A releitura de tais ideias teria lhes incutido um forte receio contra a tirania e conspirações contra a liberdade. Isso explicaria o porquê de os colonos reagirem de maneira tão abrupta às novas políticas imperiais da Grã-Bretanha durante a década de 1760.
A Historiografia Neo-Progressista ou Revisionista
Da mesma forma que o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe questionamentos sobre a força das ideias, as décadas de 1950 e 1960 trariam uma renovada interpretação sobre a força dos movimentos sociais como elemento de transformação. Trata-se do momento em que o movimento do Civil Rights toma conta dos noticiários e da vida política americana, mobilizando a opinião pública. Com isso, vemos o surgimento de interpretações sobre a revolução americana surgindo nos ambientes acadêmicos, com a formatação de uma nova geração de historiadores, chamados de Neo-Progressistas ou Revisionistas.
Ao contrário da visão progressista, que defendia a existência de uma dupla revolução, com a vitória de um movimento contrarrevolucionário consubstanciado pela Constituição, os novos progressistas defendiam que a revolução não foi revolucionária. No limite da análise, teria sido uma “Revolução Conservadora”, principalmente quando comparada com a Revolução Francesa.

Essa análise baseava-se na interpretação de que foram as mesmas elites que governavam as colônias antes da independência que seguiram nos principais postos de comando após a ruptura com a Grã-Bretanha. Além disso, a escravidão e os modos de exploração do trabalho seguiram os mesmos. A Revolução, portanto, teria sido conduzida por pais fundadores, representantes de uma aristocracia colonial, com vistas a defender seus próprios interesses, entre eles, a escravidão. Entre os principais autores dessa geração, destacamos o historiador Howard Zinn, muito conhecido por seu livro People’s History of the United States de 1980, onde expõe a ausência de debates relacionados à questão de raça e gênero na produção historiográfica do assunto.
Os Founders Chic
A década de 1980 e a chegada do presidente Ronald Reagan à Casa Branca marcam a vitória do neoconservadorismo como pensamento político hegemônico. Dentre as várias características dessa ideologia, uma delas está o patriotismo e a defesa da liberdade como um valor americano estabelecido pela Revolução Americana. No ideário neoconservador, era necessário um retorno à interpretação triunfalista da independência, atacando a produção neoprogressiva, classificada de antipatriótica e doutrinadora.
O resultado da discussão entre a historiografia revisionista da Revolução Americana e as demandas de uma sociedade neoconservadora foi o surgimento de uma linha editorial que ficaria conhecida, nos anos 1990, como Founders Chic. Não se trata de uma historiografia específica, mas de um perfil de publicação que retomam a importância das ideias para o evento independentista, aplicando uma narrativa mais acessível ao público comum. Seus trabalhos tinham por característica reviver as elites tão frequentemente difamadas, mas sem desistir de apontar seus defeitos, apenas os contextualizando. Entre as obras de mais destaque desse período encontramos Founding Brothers (2000) do historiador Joseph Ellis e a biografia de John Adams (2001), escrita por David McCullough.
A Historiografia Pós-Revisionista
Ainda que os Founders Chic tenham tido o cuidado de pontuar os erros dos pais fundadores, interpretando-os como seres humanos e não entidades celestiais, é verdade que as obras daquele período deixaram as prateleiras das livrarias dedicadas à Revolução Americana mais brancas, masculinas e nacionalistas. Algo que, por sinal, ia contra os impulsos produzidos pelo fenômeno da globalização, que valorizava a diversidade étnica e os aspectos interconectados da história. Não demorou, portanto, para que surgisse uma nova corrente de historiadores preocupada com tais problemáticas.
Classificados como pós-revisionistas, tentam olhar para o tema da raça e gênero, preconizada pela Geração de Howard Zinn, mas se afastando de um materialismo histórico datado. Assim, aplicam teorias mais complexas para interpretar o passado, buscando em novas fontes e novos questionamentos maneiras de dar vozes a atores esquecidos da Revolução Americana.
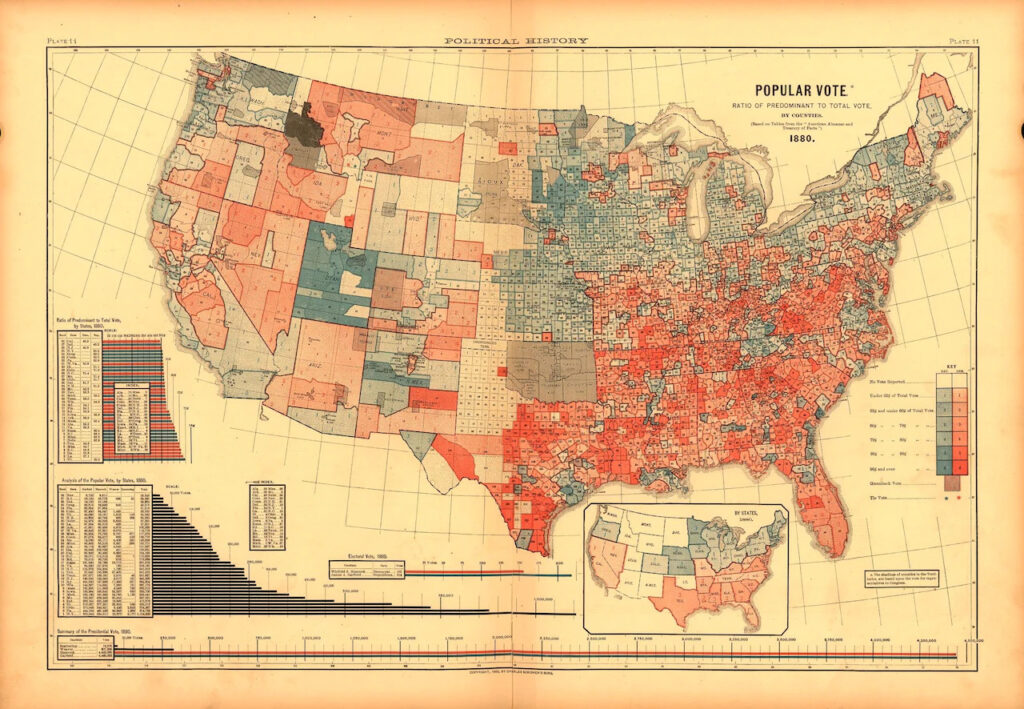
De maneira geral, essa é a historiografia predominante no campo atualmente. Conforme explica Woody Holton, “A grande maioria dos historiadores acadêmicos que estudam a era Revolucionária agora concentra sua atenção […] em nativos americanos, afro-americanos, mulheres de todas as raças e classes sociais, e homens brancos não pertencentes à elite. Ao fazer isso, eles abriram um novo conjunto completo de debates, como, por exemplo, sobre se enfatizar as formas nas quais homens brancos oprimiam mulheres, índios e afro-americanos escravizados, ou, em vez disso, sobre os esforços frequentemente notáveis desses grupos para resistir e superar sua opressão”.
Holton, porém, enfatiza que um dos grandes desafios para os historiadores que escrevem sobre os americanos daquele período (que não sejam os Pais Fundadores) é entrelaçar suas histórias na narrativa principal. Segundo ele, “ainda estamos aguardando por uma história da Revolução Americana que seja abrangente o suficiente para incorporar os indígenas, os escravos, as mulheres e os agricultores comuns, juntamente com os contos tradicionais do Congresso da Lei do Selo e da Batalha de Bunker Hill”
Talvez, as exceções a essa crítica sejam os livros de Norman Risjord, Jefferson’s America, 1760–1815, de 2009 e de Robert Parkinson, Common Cause: Creating Race and Nation in the American Revolution, de 2016. De qualquer maneira, é evidente que os frutos gerados por essa nova historiografia são positivos, sendo responsáveis por gerar clássicos instantâneos como: The Slave Ship (2007), de Marcus Rediker, The Hemingses of Monticello (2008), de Annette Gordon-Reed ou The Divided Ground: Indians, Settlers, and the Northern Borderland of the American Revolution (2006), de Alan Taylor. Porém, que mereceriam uma nova coluna aqui no Café História para serem trabalhados com o cuidado que merecem.
Ao final dessa jornada por mais de dois séculos da historiografia que se dedicou a Revolução Americana, esperamos que tenha ficado claro nossa interpretação de que os debates levantados pelas linhas historiográficas, para além de sanar a curiosidade de pesquisadores e leitores, cumprem, também, com o desafio de voltar ao momento de “origem da sociedade americana”, enfrentando os fantasmas que colocam à prova as promessas feitas por seus fundadores.
Referências
HOLTON, Woody. American Revolution and Early Republic. In: FONER, Eric & McGIRR, Linda. American History Now. Philadelphia: Temple University Press, 2011.
WOOD, Gordon S. Revolutionary characters: what made the founders different. New York. The Penguin Press, 2006.
Como citar este artigo
PINHEIRO, Marcos Sorrilha. A Historiografia da Revolução Americana (Artigo/Bibliografia Comentada). In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/a-historiografia-da-revolucao-americana/. Publicado em 28 set. de 2023. ISSN: 2674-5917.







